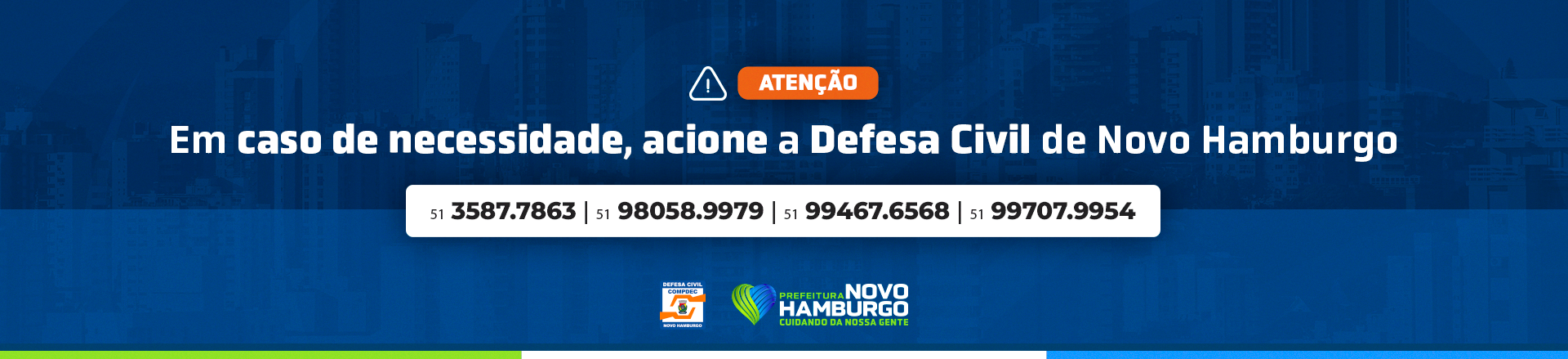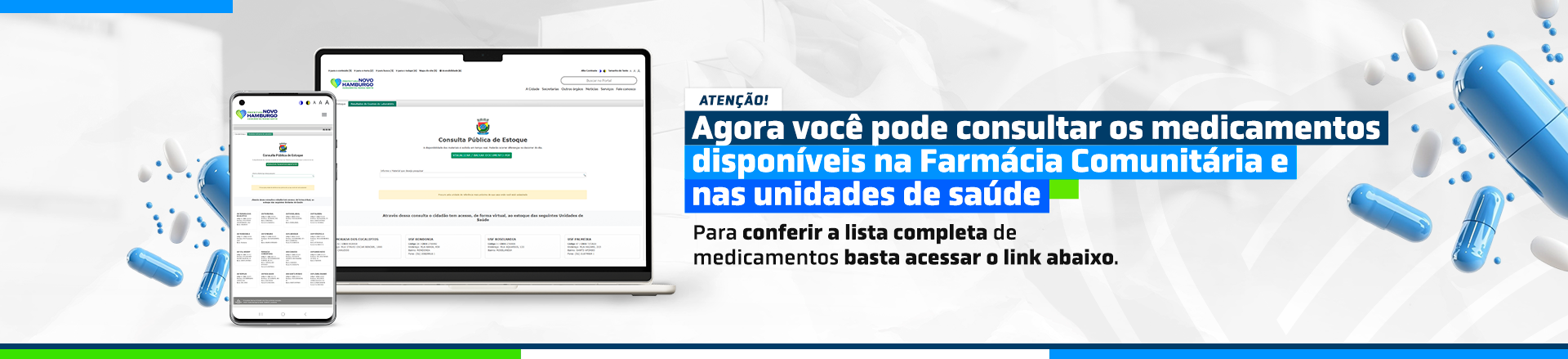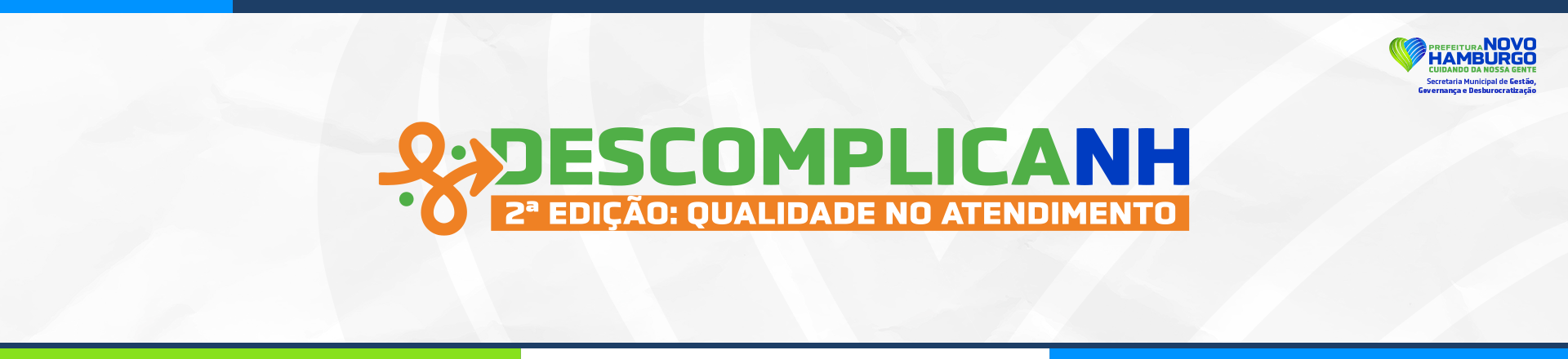Por Paulo Daniel Spolier
Ao contrário do que muitos pensam, a História é dinâmica.
O passado é inerte, sua concretude se desvanece a cada milésimo de segundo. Entretanto, as leituras que podemos fazer a partir das relações entre este tempo que já passou com determinado espaço e os seres que nele habitaram estão sempre em constante mutação. Escrever História é um processo de investigação permanente, sempre em busca de uma pista, um documento, uma única fonte que colocará tudo aquilo que era sólido a desmanchar-se no ar, como já escreveu o filósofo alemão Karl Marx.
O município de Novo Hamburgo, emancipado a 5 de abril de 1927, é parte de um processo histórico de média duração, iniciado nos Estados Alemães no século XVIII, durante o advento da Revolução Industrial. Afirmação que, admitimos, pode ser facilmente refutada, visto que episódios ligados ao fenômeno imigrantista, como os Muckers, remontam sua essência ao advento da Reforma Protestante, no século XVI.
A privatização das terras comunais e o fim da servidão da gleba, no início do século XIX, aliados à destruição causada pelas guerras napoleônicas atingiram em cheio a população das aldeias alemãs. A escassez de terras e a concorrência da mecanização, entre outros fatores, levou grande parte da população à níveis extremos de pobreza. Migrar se tornou uma das poucas alternativas para sobreviver naquelas paragens.
No lado brasileiro, a grande impulsora da imigração alemã no início do século XIX foi a Arquiduquesa Leopoldina Carolina Josefa, filha de Dom Francisco II, último Imperador do Sacro Império Romano da Nação Alemã e primeiro Imperador da Áustria, da Casa dos Habsburgos. Ao se casar, em 1817, com o príncipe português Dom Pedro I, ela passou a exercer crescente influência na Família Real de Portugal e, após 1822, na monarquia brasileira, fomentando a vinda dos imigrantes alemães a partir de 1824.
Sob instruções do ministro real José Bonifácio de Andrada e Silva, o Major Jorge Antônio von Schaeffer inicia, por volta de 1820, extensa campanha para engajar imigrantes germânicos para virem ao Brasil.
A partir dessa data, prometeu-lhes, caso se tornassem agricultores, propriedade de terras, sementes, animais, implementos e isenção de impostos por dez anos. Da mesma maneira, quando incorporados ao exército imperial: capitulação por seis anos, vestimenta, alimentação e soldo e, após a desincorporação, tudo o mais que era prometido aos agricultores.
A vinda de braços estrangeiros fazia parte de uma estratégia do recém-criado Império do Brasil para guarnecer a atribulada fronteira Sul, bem como estabelecer núcleos de produção agrícola no caminho das tropas em trânsito para aquela região. Para tanto, era necessária a instalação de um novo modelo fundiário ainda inexistente no Brasil, dividido, nas palavras de Gilberto Freyre, em Casa Grande e Senzala: a pequena propriedade agrícola de produção familiar de alimentos.
Além disso, num país em que a instituição da escravidão africana se colocava como uma das bases tradicionais da economia nacional, a vinda de homens e mulheres brancos, europeus e, preferencialmente, católicos, daria uma nova feição ao povo brasileiro, “branqueando” uma população majoritariamente negra ou mestiça, ação que ia ao encontro das teorias raciais da época.
O resultado de todo esse movimento logo viria a aparecer.
Em 25 de julho de 1824, a primeira leva de imigrantes germânicos chegou ao porto de São Leopoldo, antiga Feitoria Real do Linho Cânhamo. A esta primeira leva, composta por 43 pessoas, logo se somaram outras e mais outras, perfazendo um total aproximado de 5350 pessoas até o ano de 1830, primeiro ciclo imigratório gaúcho, interrompido pela guerra civil de 1835-45.
E Novo Hamburgo?
Para a região onde atualmente se localiza o município de Novo Hamburgo, nomeada à época como “Costa da Serra”, foram reservados lotes compostos por uma colônia de terras, o equivalente hoje a cerca de 70 hectares. A picada da Costa da Serra foi subdividida em 62 lotes com 170.000 braças quadradas cada um, com limites a Oeste com o arroio Portão, a Leste com o arroio Tiririca, ao Norte com os travessões do Bom Jardim, Dois Irmãos e Quatro Colônias e, ao Sul, como as terras em que se estendia a Estância Velha, entre o arroio Portão e o rio dos Sinos.
O lote de nº1, localizado na região onde hoje se encontra o Monumento ao Imigrante e a Sociedade Aliança, foi entregue a Johan Libório Mentz, casado com Magdalena Ernestine Lips, naturais de Tambach, na região da Turíngia, desembarcados do veleiro “Germânia” no porto de São Leopoldo em 6 de novembro de 1824, na terceira leva de colonos.
Neste território já havia uma comunidade estabelecida de luso-brasileiros, no Rincão dos Ilhéus, composta por famílias de descendentes de açorianos, chegados ao Rio Grande do Sul a partir de 1752 para ocuparem a região missioneira, permutada entre Espanha e Portugal no Tratado de Madri, mas que terminaram por se estabelecer na região dos vales em pequenas comunidades.
Os primeiros colonos alemães que aqui chegaram se instalaram nos arredores do que hoje é Hamburgo Velho, um entroncamento das antigas rotas que seguiam para os campos de cima da serra, para Porto Alegre e para a região dos Vales. Naquele lugar, conhecido com o passar do tempo como “Morro do Hamburguês”, Hamburgerberg, formou-se um núcleo que, mais do que uma comunidade agrícola, se transformou em entreposto comercial para o escoamento dos excedentes produzidos nas colônias vizinhas, bem como um centro de serviços, concentrando artesãos que vendiam seus serviços para os colonos.
Johann Peter Schmitt é um dos nomes-chave para entendermos a ascensão econômica do pequeno povoado do Hamburgerberg. Nascido em 1801, em Bechenheim, João Pedro Schmitt (a versão aportuguesada de seu nome) montou sua “venda” na casa em que hoje temos o Museu Comunitário Schmitt-Presser, construída por volta de 1830. A partir da articulação dos Schmitt com os produtores das colônias vizinhas, o comércio passou a ser um centro de escoamento do que era produzido além dos limites da agricultura de subsistência das pequenas propriedades agrícolas da região colonial. Aliado ao seu irmão, Henrique Guilherme Schmitt (morto em 1838, durante a Revolução Farroupilha), João Pedro comandava o fluxo de mercadorias entre a região e os centros urbanos de São Leopoldo e Porto Alegre, construindo um patrimônio estimado, por conta de seu falecimento em 1868, em 87:000$000 (oitenta e sete contos de réis) uma pequena fortuna, à época.
Sobre a rede comercial rural estabelecida pelos imigrantes, Jean Roche afirma que:
“Logo que os colonos se haviam instalado e arroteado as primeiras parcelas de terra em cada picada, um deles, que dispunha de alguns recursos e tinha espírito de iniciativa, assegurava o escoamento dos produtos agrícolas e o abastecimento de trinta ou quarenta famílias vizinhas. A intervenção do transportador transformava sacos de milho ou de feijão, em tecidos, em ferramenta ou em sal. Isso só era possível graças à posse de um meio de transporte, e a posse de um meio de transporte era o fundamento do comércio.”
Além dos Schmitt, Hambugerberg possuía entre seus habitantes uma miríade de artesãos e pequenos negociantes que, através do espírito empreendedor imigrante, registrado em tantas outras situações, vão progredir e transformar as feições do povoado: o sapateiro Schaefer, o alfaiate Kohlrausch, o carpinteiro Libório Mentz (filho do pioneiro Johann Libório), o curtidor de couros Nikolau Becker, além da hospedaria de Jakob Kroeff e do primeiro médico da região, Dr. Schönbeck.
Hamburgo Velho, como último povoado minimamente organizado frente ao hinterland colonial, concentrava uma variedade de serviços essenciais para quem se deslocava por esses rincões, inclusive no setor de hotelaria. João Heckler, analisando a trajetória dos “Jacós Kroeffs” (Pai, Filho e Neto), busca caracterizar o cotidiano do Hotel Kroeff:
“Por se localizar na ponta extrema da colônia de São Leopoldo, nos arrabaldes de Hamburgo Velho, a hospedaria Kroeff devia ser uma das últimas paradas até Sapiranga, com um grande vazio pontilhado de pequenas propriedades rurais, excetuando-se algum comércio ao longo do caminho, mas de menor monta. Assim, ao entardecer, a pensãozinha deveria ficar abarrotada de hóspedes além dos habituais membros da localidade que iam lá tomar algo e confabular sobre a Política e sobre os acontecimentos locais. Não resta dúvida de que era um lugar de encontro, de conversa — até o correio devia ser deixado por lá. Cartas para os parentes na velha Alemanha ou direcionadas aos negociantes da capital são exemplos de tal situação.”
Um dos fatores de maior relevância para o desenvolvimento da região, sem dúvidas, foi a chegada do trem. Em 1867, a Assembleia Provincial aprovou o projeto de um ramal que ligasse Porto Alegre à região colonial. Em 26 de novembro de 1871 foram iniciadas as obras, com o primeiro trecho de 33 quilômetros, até São Leopoldo, inaugurado em 1874. O restante da linha, até Novo Hamburgo, foi concluído em 1876.
A ferrovia, entretanto, não chegou até Hamburgerberg. A última estação do trecho foi instalada num descampado, de propriedade da família Schmitt, próximo ao arroio Luiz Rau, em terreno alagadiço com parcas propriedades rurais. A estação ferroviária de Hamburgo Velho só seria construída em 1903, durante a extensão da ferrovia até Taquara. Em virtude do povoado Hamburgerberg, os engenheiros contratados para a construção da linha, John McGuinity e R. Cleary, batizaram a testa de linha como “New Hamburg”, Novo Hamburgo.
Em virtude da localização e da proximidade com a estação ferroviária, o desenvolvimento regional se deslocou gradativamente de Hamburgo Velho para a atual região central da cidade, aglutinando grande atividade econômica nas proximidades do trem e no caminho entre o antigo centro e o novo núcleo de povoamento.
A atividade artesanal inicial logo tomou maiores proporções e, a partir da especialização em determinadas áreas, formou-se um parque fabril em que a maior característica era a diversidade de produtos.
Entre molduras, bebidas, móveis requintados, conservas, balas e doces, cigarros e charutos, ourivesaria e metalurgia, uma atividade se destacava: a produção de artigos de couro.
Em razão da matéria-prima abundante, a nascente economia hamburguense teve, desde a sua gênese, especial cuidado com a indústria do couro e do calçado. Do trato com o couro bovino, centrado na figura de pioneiros no curtimento como Nicolau Becker, até a produção industrial de calçados, cujo precursor foi Pedro Adams Filho, uma parte significativa dos investimentos capitalistas no 2º distrito de São Leopoldo foi na cadeia coureiro-calçadista, passando pela fabricação de bolsas, malas, cintos, arreios, celas e serigotes. Esta indústria nascente era voltada, essencialmente, para o mercado interno e teve uma gênese diferenciada do parque industrial que se formava no centro do Brasil.
Segundo Sandra Jatahy Pesavento:
“O Rio Grande do Sul teve o surgimento de suas primeiras fábricas vinculado ao circuito de acumulação de capital comercial na área do chamado complexo colonial imigrante. Portanto, já desde as origens, a indústria gaúcha teve uma base quantitativa e qualitativamente diferente da indústria do centro econômico do país, caracterizando-se pela fraca contribuição do capital agrário para a formação do capital industrial. Da mesma foram, o capital comercial que lhe deu sustentação não se vinculava a uma atividade de exportação para o mercado internacional, e sim para o mercado interno do país.”
A chegada do século XX encontra Novo Hamburgo e Hamburgo Velho como dois pujantes centros econômicos, o primeiro ainda em desenvolvimento e o segundo beirando o auge de sua capacidade produtiva. Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, Pedro Adams Filho começa a vender o produto de sua Fábrica de Calçados Rio-grandense Ltda. para São Paulo, um feito notável para a época. Em 1912, percebendo o interesse de seus clientes do ramo da fotografia por retratos emoldurados, Pedro Alles monta a primeira fábrica de molduras do Rio Grande do Sul. Guilherme Ludwig estabelece seu curtume junto à estrada que vai de Novo Hamburgo a Hamburgo Velho ainda em 1898. Arthur Haas, em 1892, montou sua fábrica em Hamburgo Velho, fabricando carteiras, malas e artigos para viagem.
Com o desenvolvimento da economia industrial, a classe operária hamburguense, de início bastante reduzida em virtude das empresas terem um caráter essencialmente familiar, teve um desenvolvimento numérico paralelo ao setor fabril.
Em função da oferta de empregos, numerosas famílias começam um fluxo migratório, inicialmente tímido, para Novo Hamburgo. Da região de Pelotas, conhecida pela produção de charque desde o final do século XVIII e vivendo sua maior crise desde a época colonial, trabalhadores especializados no trabalho de curtimento percebem a alternativa de trabalho que se abre no Vale do Sinos e migram para a região, principalmente para Novo Hamburgo, onde se fixam no bairro da Mistura, cujo nome deixa perceber a diversidade de seus habitantes: negros e brancos pobres.
Em relação à população negra, anteriormente à chegada dos primeiros imigrantes alemães, já se faziam presentes homens e mulheres negros escravizados desde a Real Feitoria do Linho Cânhamo, empreendimento estatal para a produção de cordame a partir do beneficiamento das fibras e que tinha, como toda a economia brasileira, sua base na mão de obra escravizada. Mesmo os imigrantes, proibidos por lei de possuírem escravos, utilizavam brechas legais e adquiriam para si um dos símbolos de status social: a posse de escravos. Em 1872, São Leopoldo contava com 1546 escravos, num universo de 30857 habitantes.
No atual bairro Guarani e em partes da Vila Nova estava territorializado o bairro África, que concentrava a maior parte da população afro-brasileira em Novo Hamburgo. Com o desenvolvimento das indústrias e a busca por postos de trabalho, boa parte deste contingente passou a se fixar nos altos do bairro da Mistura, onde eram despejados os cubos – tonéis com excrementos recolhidos pela limpeza pública e que tornavam os terrenos das imediações mais acessíveis à população mais pobre. Apesar de não haver uma legislação segregacionista, como em vários estados norte-americanos, nas primeiras décadas do século XX, negros e brancos não dividiam os mesmos espaços na sociedade hamburguense.
O jornal 5 de Abril de seis de março de 1936, em nota intitulada “Uma aspiração dos negros”, informava que havia visitado a redação do periódico
“(...) uma comissão de homens de cor que vieram protestar contra os cinemas desta cidade, por não lhes permitirem estes a entrada na platéa. Pleiteiam, por isso, que estas casas de diversões estipulem, pelo menos, um preço especial para os logares que indicam para a classe negra.”
Com uma indústria consolidada e uma economia diversificada, faltava a Novo Hamburgo a possibilidade de regular e projetar de forma autônoma seus passos. A sede do município, São Leopoldo, deixava muito a desejar às pretensões das camadas dirigentes da economia hamburguense. Faltava luz elétrica, calçamento, obras públicas de saneamento, enfim… faltavam estruturas básicas para o desenvolvimento da economia local, dificuldades que poderiam ser sanadas, de acordo com os emancipacionistas, pela separação de Novo Hamburgo e Hamburgo Velho de São Leopoldo e a constituição de um novo município.
Rusgas entre São Leopoldo e Novo Hamburgo são bastante comuns na história das duas cidades. Capilés e Spritzbiers se degladiavam há tempos, de forma velada, para tomarem a dianteira como centro econômico da região colonial.
Em 1919, o intendente municipal Gabriel Azambuja Fortuna, embalado pelo sentimento antigermânico da recém-encerrada Primeira Guerra Mundial, decide mudas os nomes das localidades do 2º distrito. Em fevereiro, Novo Hamburgo tem seu nome modificado para Borges de Medeiros, em homenagem ao Presidente do Estado. Em junho do mesmo ano, Hamburgo Velho passa a se chamar Genuíno Sampaio, em referência ao Coronel do Exército responsável pelo massacre aos insurgentes Muckers, no Morro Ferrabrás, em Sapiranga. A medida causou revolta entre os moradores, que assinaram uma petição solicitando a volta aos antigos nomes, que logo foi deferida pelas autoridades.
No aspecto político, é possível montar um painel a partir das principais personagens da luta pela emancipação: Pedro Adams Filho e Julio Kunz ocuparam cadeiras no Conselho Municipal de São Leopoldo, Cel. Jacob Kroeff Netto foi a maior liderança regional do Partido Republicano Riograndense (PRR) na Assembleia de Representantes do Rio Grande do Sul; Leopoldo Petry ocupou a Secretaria da Intendência Municipal durante o mandato de dois intendentes (Gabriel Azambuja Fortuna e Mansueto Bernardi) entre os anos de 1917 e 1923; Carlos Dienstbach foi subintendente do 2º distrito por duas gestões; José João Martins, tradicionalmente uma liderança do Partido Libertador, passou para o lado republicano em 1924 e foi nomeado presidente da Comissão Pró-vilamento de Novo Hamburgo.
Necessário se faz frisar aqui que estas são as principais lideranças, havendo toda uma mobilização local que envolvia centenas de pessoas no sentido de fortalecer a busca de autonomia para Novo Hamburgo. Nomes como Ervino João Schmidt, João Wendelino Hennemann, Alberto Mosmann, Carlos Augusto Brenner, Leo João Campani, Augusto Wolf, Pedro Alles, Albino Kieling, Leonardo Alles, Balduino Michels, Oswaldo J. Driesch, Ernesto Olypho Moeller, Augusto Jung, Roberto Streb, João Brandenburger, Germano Fehse, Júlio Trein, Henrique Alberto Steigleder, Jacob Sperb Filho, Waldemar Kremer, Guilherme Ludwig, Eduardo Springer, Frederico Kremer, entre tantos outros, são encontrados nos registros históricos da luta pela emancipação.
Analisando a produção histórica sobre o período e cruzando as informações com as fontes disponíveis, notamos a extensão da penetração do ideário emancipacionista na sociedade hamburguense. Aqui se faz importante lembrar que as sociedades de tradição germânica de Novo Hamburgo são espaços em que, além da sociabilidade recreativa, são fechados negócios, feitas alianças políticas e celebrados momentos cívicos. Sociedades como o Gesangverein Frohsinn (Sociedade de Cantores de Hamburgo Velho, 1888) e o Turnverein Neu Hamburg (Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, 1894) foram espaços catalisadores e multiplicadores dos princípios que comandaram a busca pela autonomia do 2º distrito.
Em 1923, por exemplo, já era visível no município de São Leopoldo a preocupação com a agenda de festejos do centenário da imigração alemã no Brasil, a ser comemorado no ano seguinte. Nas reuniões sobre possíveis ações para marcar a data, teve início o impasse sobre a construção de um monumento que desse destaque à tal efeméride, tão relevante para a comunidade teuto-brasileira. Segundo Roswithia Weber:
“Em outubro, uma comissão particular formada em função das comemorações de 1924 foi a comissão pró-monumento, encarregada de movimentar-se para o erguimento de um monumento em São Leopoldo. Resultou da iniciativa da Leopoldenser Turverein (Sociedade Ginástica Leopoldense), que, em fevereiro de 1924, instalou a comissão. A proposta do levantamento de um monumento em São Leopoldo possivelmente surgiu como 'resposta' ao grupo comprometido com a instalação de um monumento em Novo Hamburgo.”
Segundo o jornal em língua alemã Deutsche Post, foi necessária intervenção de elementos da capital do Estado para resolver o impasse sobre a construção do dito monumento, já que as comissões hamburguense e leopoldense reivindicavam para si o protagonismo da ação. Desta forma, foram criados dois projetos. O de São Leopoldo, de autoria de Walter Drechsler, celebraria o desembarque dos imigrantes (Landungsdenkmal). Já o de Novo Hamburgo teria por foco a colonização (kolonizationsdenkmal). Um projeto de autoria do mesmo projetista do monumento em construção na cidade de São Leopoldo, Walter Dreschler, foi enviado à comissão hamburguense. Entretanto, a planta foi rejeitada em prol da proposta do arquiteto alemão Ernest Karl Ludwig Seubert, já conhecido na localidade e autor de diversos projetos que ainda permanecem na paisagem da cidade.
Enquanto o monumento ao Centenário da Imigração de São Leopoldo foi inaugurado em 20 de setembro de 1924, em Novo Hamburgo, o Monumento ao Imigrante ainda estava sendo erigido, após o lançamento da pedra fundamental, em 25 de julho daquele ano. O término da obra só se daria em 15 de novembro de 1927, coincidindo com o ano da emancipação do município.
Dentre as estratégias de convencimento junto às autoridades estaduais de que a emancipação de Novo Hamburgo era algo viável, uma delas teve um peso significativo. Em 20 de setembro de 1924, às catorze horas e trinta minutos, o Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, Antonio Augusto Borges de Medeiros, inaugurava a Exposição Agroindustrial de Novo Hamburgo. No trajeto entre Porto Alegre e a estação de Novo Hamburgo, Borges apenas teve uma breve passagem por São Leopoldo, pois seu destino não era a sede do município, mas seu distrito rebelde.
Mais do que uma mostra de produtos, a exposição se tornou um dos fortes argumentos pela emancipação do 2º distrito. Durante quinze dias, a Praça 20 de Setembro foi ocupada por estandes das indústrias locais, expondo o que havia de mais refinado e significativo entre a economia local, demonstrando toda a pujança econômica e a capacidade organizacional da comunidade hamburguense.
A partir de 1924, tentativas de conquistar a emancipação via aprovação do Conselho Municipal de São Leopoldo são feitas pelo Comitê Pró-vilamento, sem obter sucesso. A Comissão Emancipacionista, formada por João Wendelino Henneman, Bertold Rech, Guilherme Ludwig, Ernesto Moeller, Julio Kunz, Carlos Dienstbach, André Kilpp, José João Martins, Arnaldo Coelho, Pedro Adams Filho e Leopoldo Petry, manteve viva a chama autonomista na comunidade, enquanto articulava a ideia politicamente junto às autoridades estaduais.
O desligamento do município mãe e a autonomia de Novo Hamburgo só serão conquistados através da interferência direta do governador Borges de Medeiros que, através do Decreto 3818, de 5 de abril de 1927, dava a Novo Hamburgo a condição de município, constituído inteiramente dentro do território de São Leopoldo.
O Coronel Jacob Kroeff Netto foi nomeado intendente provisório, até que fossem realizadas eleições para escolher o chefe do Executivo e os membros do Conselho Municipal. Em 29 de maio de 1927, ocorreram as eleições municipais, registradas pelo Jornal O 5 de Abril, fruto de uma parceria entre Leopoldo Petry (redator) e o tipógrafo Hans Behrend:
“(…) a votação foi a seguinte: Para Intendente, Leopoldo Petry, funcionário público, 574 votos; para Vice-intendente, Guilherme Ludwig, industrialista, 577 votos; Para Conselheiros municipais; João Eduindo Brodbeck, 575 votos; Balduíno Michels, 577 votos; Bertold Rech, 570 votos; Guilherme L. Vielitz, 578 votos; Alberto Adams, 572 votos; Albino Schröer, 577 votos e Henrique Alberto Steigleder, 573 votos.”
Essa formação permanecerá até 1930, quando o movimento liderado por Getúlio Vargas irá fechar os legislativos de todo o país e substituir diversos intendentes por quadros ligados às estruturas varguistas. Em Novo Hamburgo, o Coronel da Brigada Militar José Gomes Ferreira substituirá Leopoldo Petry na chefia do Executivo municipal até 1935, quando Ângelo Provenzano será eleito prefeito através do voto direto.
O processo de nacionalização protagonizado por Getúlio Vargas vai atingir em cheio a comunidade hamburguense. Em 1937, o Estado Novo coloca à frente da prefeitura de Novo Hamburgo o pernambucano Odon Cavalcanti. Ao mesmo tempo que o governo promove ações junto às camadas mais pobres da sociedade (Posto de Higiêne, Grupo Escolar Pedro II, início das obras do Hospital Operário Darcy Vargas), persegue implacavelmente os falantes da língua alemã, notadamente após a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Livros em língua alemã, cartas de familiares e rádios são confiscados das famílias, ao mesmo tempo que vários cidadãos são presos por suposta qualificação como “quinta coluna”.
Em meio a este ambiente turbulento, foi expedido, em 31 de maio de 1939 o decreto Lei federal nº1307, autorizando o governo estadual a modificar as linhas divisórias entre os municípios do Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, desde a emancipação, estava totalmente dentro de São Leopoldo, já que suas divisas eram com distritos daquele município. Buscando alterar esta configuração, o distrito leopoldense de Lomba Grande passou a pertencer a Novo Hamburgo através do Decreto Estadual n.º 7.842, de 30 de junho de 1939, assinado pelo interventor federal Osvaldo Cordeiro de Farias. Akém de uma “saída” de dentro de São Leopoldo, a anexação de Lomba Grande implicou no aumento da população em mais de 3500 indivíduos, em sua maioria agricultores.
A partir da redemocratização, em 1945, a produção fabril volta a esquentar a economia local, gerando um novo impulso na economia, que abrirá portas para a principal vertente de recursos a partir do início da década de 1960: a exportação de calçados.
A partir de uma iniciativa do então Governador do Estado, Leonel Brizola, uma comitiva de empresários gaúchos visitou os Estados Unidos, em 1960, buscando parcerias comerciais com aquele mercado. Como um dos principais polos de fabricação de sapatos para os americanos havia se fechado com a Revolução Cubana do ano anterior, a possibilidade dos Estados Unidos importarem o calçado gaúcho transformou-se em realidade.
Novo Hamburgo já possuía a fama de cidade rica, a “Manchester brasileira”, mesmo antes das exportações. Migrantes de todo o Rio Grande do Sul já ocupavam postos nas fábricas de calçado. Nos registros de doentes do Hospital Operário Darcy Vargas, inaugurado em 1947, grande parte do atendimento é feito a trabalhadores naturais de municípios dos vales do Caí e Paranhana.
Com as exportações, o fluxo de dinheiro que entra na cidade se torna incomparável aos tempos anteriores. Em 1963, por exemplo, a arrecadação de impostos do município de Novo Hamburgo superava a arrecadação individual de doze estados da federação.
Com isso, a movimentação de migrantes para a cidade atinge níveis estratosféricos nas décadas seguintes. Para se ter uma ideia desse montante, no momento da emancipação, em 1927, Novo Hamburgo era uma pequena vila, formada por 8500 almas. Vinte e três anos depois, em 1950, o município contava com 29447 cidadãos contados no censo demográfico efetivado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Observe a tabela:
| ANO | NÚMERO DE HABITANTES | CRESCIMENTO DESDE O ÚLTIMO CENSO |
|---|---|---|
| 1927 | 8.500 | -x- |
| 1940 (anexação de LG) | 19.251 | 126% |
| 1950 | 29.447 | 52,9% |
| 1960 | 53.776 | 82,6% |
| 1970 | 84.376 | 56,9% |
| 1980 | 136.494 | 61,7% |
| 1991 | 205.668 | 50,6% |
| 2000 | 236.059 | 14,7% |
| 2010 | 238.940 | 1,2% |
| 2017 (estimativa) | 249.508 | 4,4% |
Desta forma, podemos observar que, entre o início da década de 1960 e o primeiro ano da década de 90 do século XX, o município teve um aumento populacional na casa dos 282%. Se compararmos os dados locais como os números nacionais, perceberemos que a média de crescimento hamburguense é duas vezes maior que a nacional até o final da primeira década do século XXI.
| ANO | NOVO HAMBURGO | CRESCIMENTO | BRASIL | CRESCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 53.776 | -X- | 72.210.000 | -X- |
| 1970 | 84.376 | 56,9% | 95.330.000 | 32% |
| 1980 | 136.494 | 61,7% | 121.200.000 | 27,1% |
| 1991 | 205.668 | 50,6% | 152.000.000 | 25% |
| 2000 | 236.059 | 14,7% | 169 799 170 | 11,7% |
| 2010 | 238.940 | 1,2% | 190.732.694 | 12% |
De fato, durante os anos de ouro da exportação de calçados, regiões como os bairros Santo Afonso e Canudos receberam milhares de famílias vindas do interior do estado em busca de melhores condições de vida a partir de um emprego nas fábricas. Se pensarmos no rendimento médio de uma pequena propriedade rural na década de 1970, a possibilidade de ganho real, monetário, de uma família com quatro indivíduos maiores de 18 anos no setor coureiro-calçadista era extremamente atraente: são quatro salários mínimos, além da possibilidade de empregar os filhos menores de 18, mas que já haviam completado 12 anos, pelo valor de meio salário mínimo.
Assim, vai se formando ao redor do núcleo original de povoamento (Centro, Hamburgo Velho, Vila Rosa, Ideal, Rio Branco, Operário) um cinturão de comunidades que aumentaram até o final da década de 1990.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais: a longa duração. Revista de História, nº62, Volume XXX., Ano XVI. Universidade de São Paulo, Abril-Junho de 1965. Disponivel em http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/123422/119736
BRAUN, Felipe Kuhn. História de Novo Hamburgo: 1824-1945. São Leopoldo: Oikos, 2016.
DREHER, Martin Norberto. A religião de Jacobina. São Leopoldo: Oikos, 2017.
GARCIA, Fernando Cacciatore de. Fronteira Iluminada. História do povoamento, conquista e limites do Rio Grande do Sul a partir do Tratado de Tordesilhas (1420-1920). Porto Alegre: Sulina, 2010.
GERTZ, René Ernani. O aviador e o carroceiro: política, etnia e religião no Rio Grande do Sul nos anos 1920. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/novo-hamburgo/historico
IBGE – biblioteca digital: https://biblioteca.ibge.gov.br/
Jornal NH.
Jornal O 5 de Abril.
KUHN, Emerson Ranieri Santos. MARONEZE, Luiz Antonio Gloger. O trabalho e a modernidade na cidade de Novo Hamburgo segundo o jornal O 5 de Abril. Conexão – Comunicação e Cultura, UCS, Caxias do Sul – v. 15, n. 29, jan./jun. 2016, p. 167-187 Disponível em http://ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/download/4199/2630
LUZ, João Hecker. Jacob Kroeff – Jacob Kroeff Filho – Jacob Kroeff Neto: o Hoteleiro, o Coronel, o Intendente – 1855 a 1966. Dissertação. Mestrado em História. Porto Alegre: PUC – RS, 2010.
MAGALHÃES, Magna Lima. Associativismo negro no Rio Grande do Sul.São Leopoldo: Trajetos Editorial, 2017
MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. MUGGE, Miquéias H. Histórias de escravos e senhores em uma região de imigração europeia. São Leopoldo: Oikos, 2014.
“Movimentos – 90 Anos de Novo Hamburgo”. Direção: Leonardo Peixoto. Produção: Vale TV – Simples Assim. Novo Hamburgo: Simples Assim Projetos e Produções Culturais, 2017.
MULLER, Telmo Lauro. Monumentos em São Leopoldo. São Leopoldo: sem editora, 1979.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. A Burguesia Gaúcha: dominação do capital e disciplina do trabalho (RS: 1889/1930). Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.
PETRY, Leopoldo. O município de Novo Hamburgo. São Leopoldo: Rotermund, 1959.
ROCHE, Jean. A colonização alemã e o Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora do Globo, 1969.
SANTOS, Rodrigo Luis dos. Convergências de interesses e disputas: as interações e conflitos políticos e religiosos entre Católicos e Evangélico-luteranos no Rio Grande do Sul (análises sobre o município de Novo Hamburgo, década de 1920). Revista de História Regional 22(1): 220-242, 2017. Ponta Grossa: UEPG, 2017. Disponível em http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/view/9533
SCHÜTZ, Liane M. Martins. Novo Hamburgo: sua história, sua gente. Porto Alegre: Pallotti, 1992.
WEBER, Roswithia. Animosidade entre Novo Hamburgo e São Leopoldo no pré-emancipação. In: MARONEZE, Luiz Antonio Gloger. Histórias de Novo Hamburgo: 90 anos. Novo Hamburgo: Feevale, 2017.